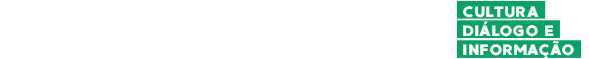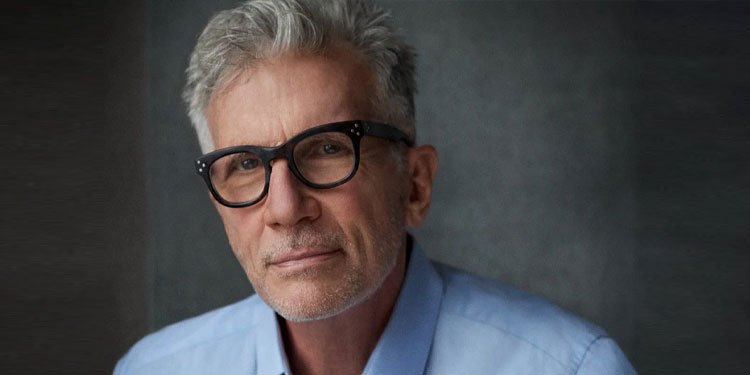Conheci Michael Cunningham no início dos anos 2000 por meio de As Horas, romance que me atravessou de maneira silenciosa, mas profunda. Foi impossível não reconhecer ali a sombra elegante de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf — não apenas como referência, mas como espinha dorsal da narrativa. O livro de Cunningham se desdobra em três histórias que se entrelaçam com delicadeza e precisão: uma acompanha a própria Virginia Woolf, em pleno processo de criação; outra mostra uma leitora impactada por seu romance; e a terceira reencena, décadas depois, o espírito de Clarissa Dalloway em plena Nova York dos anos 1990. A intertextualidade não é apenas homenagem, é recriação — e foi isso que me impressionou: a maneira como Cunningham atualiza os dilemas de Woolf, trazendo-os para o presente com lirismo, empatia e uma consciência aguda do tempo, da morte e da delicadeza das relações humanas.
Desde então, fui lendo seus outros livros e percebendo que Cunningham escreve sempre sobre o que sobra. O que sobra do amor, depois que a paixão passa. O que sobra das famílias, depois que elas se desfazem. O que sobra da linguagem, depois que o silêncio se impõe. Seus romances são atravessados por temas constantes — a incomunicabilidade, os afetos dissonantes, a identidade de gênero como território fluido, o desejo como tensão permanente —, mas sempre tratados com uma delicadeza que raramente se vê na literatura contemporânea.
Uma Casa no Fim do Mundo, seu primeiro romance, já mostrava isso. Bobby, Jonathan e Clare vivem um afeto que desafia qualquer enquadramento fácil: é amizade, é amor, é uma tentativa de família. Não há heroísmo queer ou drama espetacular: o que há é um desejo simples de estar junto, de cuidar, de continuar. E isso, no contexto da virada dos anos 1980 para os 1990, com a epidemia da AIDS ainda no horizonte, já era um gesto profundamente radical.
Em Laços de Sangue, ele amplia essa observação dos vínculos em desajuste ao longo de décadas e gerações. É um romance mais amplo, mais ambicioso talvez, mas com a mesma atenção aos instantes de falha e de ternura. A família Stassos não é exemplar nem trágica: é humana, imperfeita, marcada por silêncios, deslocamentos, reconciliações parciais. O livro pulsa com essa ideia de que, mesmo entre os escombros, algo resiste — um gesto, uma presença, uma tentativa de amar melhor.
Mas é em Ao Anoitecer que a melancolia se impõe de forma mais direta. Peter Harris, marchand bem-sucedido, se vê perturbado pela presença do cunhado jovem, uma figura ambígua, bela, quase um espelho do que ele mesmo deixou de ser. O romance, lento e introspectivo, é uma meditação sobre o desejo masculino, o envelhecimento e o colapso das certezas. Ninguém ali se entende direito — mas todos tentam, e isso basta.
Nada se encerra, nada se explica por completo. Seus personagens, como nós, tateiam. Erram, amam mal, se calam quando deveriam falar, falam demais quando o momento exige contenção. Mas nunca deixam de tentar.
Em A Rainha da Neve, a cidade — Brooklyn, como sempre — está coberta de neve, e os irmãos Barrett e Tyler vivem em suspenso: entre a fé e o cinismo, entre o cuidado e a fuga. O tom quase místico do livro me tocou profundamente. Não é um misticismo religioso, mas uma busca por sentido em tempos de desencanto. Um livro sobre esperança, sim — mas daquelas que mal se sustenta.
Cunningham retorna com ainda mais maturidade e contenção em Day (2023), romance publicado depois de quase uma década de silêncio editorial. A estrutura é simples e devastadora: acompanhamos um ano na vida de uma família em crise, dividido em três momentos — antes, durante e depois da pandemia. A fragmentação temporal reflete a fragilidade dos laços, a distância emocional entre os personagens, o desgaste da linguagem diante da dor. E, ainda assim, há ternura. Há espaço para o cuidado, mesmo que hesitante. Para a reconciliação, mesmo que parcial. Para o amor, mesmo que não dito.
O que me comove em sua obra não é apenas a sensibilidade com que trata temas como homossexualidade, identidade de gênero ou afetos dissidentes. É, sobretudo, o modo como ele se recusa a resolver os conflitos. Nada se encerra, nada se explica por completo. Seus personagens, como nós, tateiam. Erram, amam mal, se calam quando deveriam falar, falam demais quando o momento exige contenção. Mas nunca deixam de tentar.
Ler Michael Cunningham é, para mim, um modo de reaprender a escutar. Seus livros são habitados por vozes que não gritam, por histórias que não se impõem, por verdades que nunca são absolutas. São livros que nos pedem paciência — e, em troca, oferecem beleza.
Volto a ele sempre que o mundo parece barulhento demais. Porque sei que, ali, entre as pausas e os ecos, há espaço para ser falho, para desejar o que não se pode nomear, para construir alguma forma de cuidado mesmo quando tudo parece ruir. E isso, no fim das contas, é tudo o que a boa literatura pode nos dar.
No Brasil, a obra de Michael Cunningham é publicada atualmente pela editora Companhia das Letras. Alguns títulos são encontrados pela Bertrand Brasil.
MICHAEL CUNNINGHAM
Editoras: Companhia das Letras e Bertrand Brasil;
ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA
Que tal apoiar a Escotilha? Assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 15,00 mensais. Se preferir, pode enviar uma contribuição avulsa por PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.