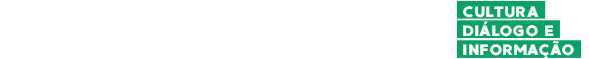Em edição recente do programa Roda Viva, o professor Silvio Almeida proferiu uma frase marcante: “não existiria racismo estrutural se não houvesse reprodução de estereótipos sobre negros nos meios de comunicação”. Almeida, que é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, é um dos principais nomes que têm explicado aquilo que se chama de racismo estrutural, que ocorre quando a violência racial é inserida na sociedade de forma naturalizada, a partir de sua própria estrutura (por exemplo, quando eu passo a não enxergar que há algo estranho que os negros sejam em maior número na população brasileira, mas em menor quantidade dentro das instituições de ensino superior, ou que palavras racistas, como “denegrir” ou “judiar”, se afastem de seu sentido original e sejam usadas de forma corrente).
A frase do professor leva a uma reflexão bastante urgente, pois diz respeito a um suposto poder engendrado pelos meios de comunicação: o de reproduzir, criar e consolidar (ou então desconstruir) o racismo a partir das imagens e discursos que criam. Em que medida, portanto, a televisão, o objeto desta coluna Canal Zero, tem responsabilidade na difusão deste racismo tido como invisível? E será que, tendo em vista as reivindicações populares (pois talvez nunca tenha se falado tanto de racismo quanto agora), estas representações racistas têm diminuído na TV? É este assunto que pretendemos entender aqui.
O que é racismo estrutural
Para começar, é preciso voltarmos ao conceito: por racismo estrutural, entendemos as manifestações racistas que não se manifestam como tal, pois se tornaram normais. Segundo o psicólogo Ramon Ferreira (CRP08/28114), este é o racismo presente na estrutura social, que “se manifesta em praticamente tudo, se não em tudo”. Ele explica este racismo a partir de exemplos históricos: a consolidação do capitalismo ou a revolução industrial se deu principalmente com o fruto do trabalho não remunerado de pessoas negras escravizadas. “Acho que uma boa prática para perceber como ele se manifesta é o chamado teste do pescoço: observar a racialidade dos espaços para perceber o lugar que a racialização coloca brancos e negros”, comenta.
O chamado teste do pescoço é uma estratégia de “colocar o pescoço” nos lugares de circulação social e contar quantas são as pessoas negras naquele ambiente. Esta é uma maneira eficiente de começar a observar o que é o racismo estrutural. A jornalista Clóris Akonteh, editora de texto do Jornal da Record, observa essa invisibilidade na televisão. “Ao olharmos atentamente o noticiário diário, nós enxergamos pouquíssimos negros como repórteres e âncoras. Preste atenção: quantos negros estão no ar hoje? Mas assistimos todos os dias a reportagens em que mostram a população negra e periférica em situações como crime, pobreza e dificuldades. O que reforça a estrutura que foi enraizada historicamente”.
Há 19 anos trabalhando na Record, Clóris relembra que várias vezes, enquanto trabalhava como repórter, foi a única profissional negra e mulher em ambientes jornalísticos. “Se fosse diferente, nós teríamos negros no papel de comunicadores. Eles estariam representando 54% da população brasileira. Isso seria inspirador e transformador para nossas crianças e jovens negros”.
Há racismo na televisão?
No ano 2000, um documentário brasileiro gerou muita repercussão no meio acadêmico. A negação do Brasil, dirigido por Joel Zito Araújo, abordou como o racismo foi fortalecido pelos personagens negros dentro da TV brasileira, sobretudo nas novelas. Ao ouvir atores e atrizes, como Milton Gonçalves, Zezé Motta e Ruth de Souza, o filme vai revelando o quanto, ao longo da história da TV, estes profissionais estiveram envolvidos sempre em papéis semelhantes: a empregada doméstica, a mammy (a governanta de personalidade forte, geralmente interpretada por uma mulher gorda, que serve de alívio cômico a uma trama) o bandido, o jagunço, o guarda-costas.

Segundo o professor e jornalista Anderson Lopes da Silva, que é doutor em Ciências da Comunicação e especialista no tema das representações na ficção, a construção de personagens sobre pessoas negras na TV sempre foi problemática. “Por problemático, quero dizer que eram produções que se utilizaram de estereótipos, formas de discriminação e representações racistas realmente ofensivas à população preta”. Ele cita alguns exemplos destas representações: “Vão desde o blackface em personagens pioneiros (como é o caso de A cabana do Pai Tomás, na Globo, em 1969-1970, onde o protagonista Tomás era interpretado pelo ator Sergio Cardoso, um ator branco, que pintava-se de preto e alargava o nariz com algodão) até à eterna escalação de talentosos atores e atrizes pretas para papéis subalternos (sejam os escravizados nas novelas de época, sejam as empregadas domésticas nas obras mais recentes)”.
Quais são os efeitos das imagens racistas?
Alguém poderia pensar: por que tais imagens são prejudiciais para os negros, uma vez que se trata de ficção? Para o professor Anderson Lopes da Silva, é ilusão enxergar ficção e realidade como “reinos” separados, que nunca se encontram. “A ficção é uma vida parasitária da vida real. Ela retroalimenta a vida real e se retroalimenta da vida real. Quando a gente se vê ou não se vê na ficção, é como se fosse uma experiência de não existência, já que quando a gente vai para a ficção, buscamos novas existências ou nos vermos refletidos nas histórias”.
Para a população negra, os efeitos dessa representação são ainda mais complexos. “Quando eu vejo uma representação malfeita, de péssima qualidade, estereotipada, além de ela reforçar aquilo que a sociedade já fala sobre mim, ela não me dá abertura sequer para eu sonhar. No caso da população negra, quando ela não é malfeita, ela é sequer feita”, explica.
O psicológo Ramon Ferreira destaca que é importante ressaltar que a mídia não estruturou o racismo, mas que é responsável na difusão destas imagens, especialmente quando faz isso sem senso crítico ou responsabilidade social, no sentido de explicar as razões para que as coisas ocorram dessa maneira. “Assim, a mídia pode contribuir para que essas imagens de negros e negras em situações de subalternidade afetem especialmente a autoestima das pessoas negras, e quando se fala em autoestima não diz respeito somente à aparência, apesar de ser um ponto importante, mas também e principalmente afeta a capacidade de o indivíduo se sentir capaz de furar essa barreira dificílima que os diversos racismos impõem ao desenvolvimento pleno da pessoa negra”.
Por mais que a TV tenha se esforçado para uma melhor representação das pessoas negras, todos os profissionais consultados acreditam que há ainda muito o que se avançar.
Quando pensamos nos efeitos psicológicos destas imagens difundidas pela mídia, Ramon entende que é importante salientar que cada indivíduo é único e que o racismo afeta a população negra de variadas maneiras. “Então, tratar a população negra como um bloco homogêneo, no qual os efeitos psicológicos poderiam ser vistos de forma coletiva, é de certa forma desrespeitar a individualidade dessas pessoas e é também parte do problema. Diferentemente das pessoas de descendência caucasiana, as pessoas negras estão condenadas à sua própria aparição, como diria o pensador Frantz Fanon, e acabam tendo que responder por toda a coletividade e não como indivíduo, seja em erros ou acertos”.
Isso significa dizer que talvez não possamos colocar todo o problema do racismo na conta das mídias – embora elas tenham, sim, um papel fundamental na difusão de imagens positivas ou negativas. “As imagens contribuem para a disseminação de um imaginário estereotipado negativamente. No entanto, elas não fazem o trabalho racista sozinhas. O racismo precisa ser entendido como um fenômeno complexo que é transmitido pela mídia, mas também no interior de famílias brancas e negras, pelas instituições, etc.”, conclui Ramon.
As mídias estão mudando?
As manifestações espalhadas pelo mundo todo, inspiradas pelo movimento Black Lives Matter, têm trazido às mídias uma discussão sobre racismo talvez mais potente que nunca. Da mesma forma, nas redes sociais, mais pessoas têm falado sobre o movimento negro e fazem um importante papel de difusão dessas reivindicações – o que leva, por exemplo, a deixar muito mais explícitas as formas do racismo estrutural. Mas será que isso significa que a TV (e os meios de comunicação, de forma mais ampla) tem evoluído em suas representações?

A jornalista Clóris Akonteh acredita que sim. “Hoje temos sites, redes sociais, influencers trabalhando com mídia negra, um trabalho importante de conscientização, discussões e diálogos. Isso fortaleceu o jornalismo também. A TV passou a ter o nosso cabelo crespo diariamente na casa das pessoas, temos âncoras negras na Record, Band, Globo, Cultura. O avanço ainda é pouco. Mas já encontramos referências na televisão para que a população negra se enxergue na TV”.
Em 2019, Clóris coordenou um projeto na Record exibido durante a Semana de Consciência Negra. A série de reportagens “Sem vaga para o racismo” (sobre a qual falamos na Escotilha) uniu oito profissionais da emissora que, juntos, debatiam sobre a realidade dos negros no mercado de trabalho – enfrentando, de forma muito franca, situações que eles mesmo já passaram. Dentro da própria Record, Clóris destaca que a presença dos jornalistas Salcy Lima e Luiz Fara Monteiro como apresentadores principais é um exemplo dessas conquistas e um estímulo para que isso cresça ainda mais.
O psicólogo Ramon Ferreira acredita que há ainda um longo caminho a ser percorrido. Uma das razões para isso é justamente a formatação das mídias e redes sociais, que favorecem que todos permaneçam em suas bolhas. “A realidade não muda se trocarmos de óculos para ver com outras lentes. Essas bolhas acabam dando a ilusão de mudança. Temos tanto influenciadores negros contribuindo para a eliminação do racismo quanto contribuindo para a sua manutenção. Temos canais evangélicos todos os dias pregando contra religiões de matriz africana, na televisão ou nos cultos nas igrejas. Temos programas sensacionalistas expondo o negro como criminoso ao mesmo tempo que em outro canto temos filmes que estão buscando exaltar a negritude. Não é possível afirmar que há mudança olhando as coisas a partir de nossas bolhas pessoais”.
Ainda assim, Ferreira observa movimentos positivos nas mídias no que diz respeito à exposição do racismo estrutural. “O que se pode afirmar é que a presença negra nesses espaços coloca a questão do modo como a população negra vinha sido representada em debate, desnaturaliza aquilo que foi naturalizado há anos. Mas mudança nessas representações, não, pois elas também se difundem na convivência social e muitas vezes de forma inconsciente e quase imperceptível”, opina.
Mais do que avanços nas representações, o professor Anderson Lopes da Silva enxerga uma complexificação na abordagem sobre as raças. “É lógico que as novas vozes sendo finalmente ouvidas (por parte dos movimentos organizados de pessoas pretas, artistas engajados com a causa e uma sociedade que já não consegue mais fingir que nada vê) conseguem trazer mudanças graduais neste cenário. Mas, à parte disso, é inegável que continuamos com uma televisão baseada na branquitude. Uma dica rápida: procure notar quem são os repórteres responsáveis por fazerem a cobertura da pandemia de Covid-19 nos estados brasileiros e que, ao fim, acabam por aparecer em telejornais que abrangem todo o país como o Jornal Nacional, por exemplo. Veja: estamos falando de um país de maioria negra (com pretos e pardos), mas que ainda tem uma quantidade esmagadora de repórteres brancos no posto de ‘representantes’ de seus estados em rede nacional”.
Por mais que a TV tenha se esforçado para uma melhor representação das pessoas negras – de modo que as personagens mostradas em A negação do Brasil certamente não passariam incólumes hoje – todos os profissionais consultados acreditam que há ainda muito o que se avançar. As mudanças, aliás, não podem vir apenas pelo esforço feito pelas emissoras. É o que esclarece o psicólogo Ramon Ferreira: “só representação não basta. Se o racismo se manifesta estruturalmente, deveria ser combatido estruturalmente. E a representação não ocorre no plano estrutural, uma vez que donos das grandes mídias, donos de grandes empresas, latifundiários são em maioria expressiva brancos. Ter a Maju no Jornal Nacional não muda o fato de que quem lucra de fato são os Marinho”.