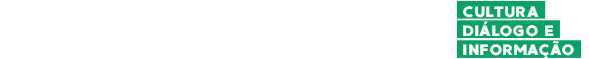Em O Último Azul, Gabriel Mascaro aprofunda a inquietação que atravessa toda a sua obra: a relação entre corpo, poder e imaginário social. Se em Boi Neon (2015) o corpo era força de trabalho e ao mesmo tempo território de desejo, e em Divino Amor (2019) se tornava objeto de controle em uma distopia religiosa, agora é a velhice que se encontra no centro de uma engrenagem política que mistura reverência e exclusão. O gesto de Mascaro não é apenas narrativo: ele insere o cinema brasileiro contemporâneo em um debate pouco explorado pelo audiovisual nacional — o do etarismo institucionalizado como forma de autoritarismo.
A distopia de O Último Azul, vencedor do Urso de Prata (Grande Prêmio do Júri) no Festival de Berlim, não se ancora em tecnologias futuristas ou no espetáculo do controle digital, como tantas ficções científicas globais, mas em dispositivos sociais sutis e perversos: a celebração pública dos idosos, ao mesmo tempo em que lhes é retirada a autonomia. Louros nas portas, aviões que sobrevoam cidades com mensagens laudatórias e o título de “patrimônio vivo da nação” funcionam como cortinas ideológicas que encobrem um sistema de tutela compulsória, no qual cada ato cotidiano é fiscalizado pelos descendentes. A lógica da vigilância aqui é íntima, familiar, e por isso mesmo mais perturbadora.
Nesse contexto, a personagem Tereza, vivida com precisão e contundência por Denise Weinberg, encarna uma resistência que não se expressa em grandes gestos heroicos, mas em pequenos atos de insubmissão. Sua decisão de realizar o desejo tardio de voar condensa a tensão entre o sonho individual e a engrenagem burocrática que a cerca. O percurso da protagonista, longe de ser mero “road movie fluvial”, é um movimento de desestabilização das normas, que Mascaro enriquece com a inserção delicada do realismo mágico — a baba-azul do caramujo que revela destinos — como metáfora da abertura para futuros possíveis, ainda que instáveis.
O percurso da protagonista, longe de ser mero “road movie fluvial”, é um movimento de desestabilização das normas, que Mascaro enriquece com a inserção delicada do realismo mágico — a baba-azul do caramujo que revela destinos — como metáfora da abertura para futuros possíveis, ainda que instáveis.
O filme encontra sua densidade maior no encontro de Tereza com Roberta (Miriam Socarras), figura que destila humor, ironia e desencanto. Se Tereza é força de resistência silenciosa, Roberta é a explosão anárquica, quase carnavalesca, de uma subjetividade que recusou a obediência. A amizade que nasce entre elas não é só motor narrativo, mas crítica às representações hegemônicas da velhice no cinema, quase sempre domesticadas em imagens de ternura, docilidade ou conformismo. Aqui, mulheres de mais de 70 anos aparecem como sujeitos de desejo, liberdade e insubordinação.
Rodrigo Santoro, em um papel secundário mas expressivo, funciona como contraponto masculino: o barqueiro Cadu, viril em aparência, mas dilacerado em sua vulnerabilidade íntima. Ao lhe reservar uma cena de confissão sob transe, Mascaro amplia a crítica ao mostrar que a fragilidade não é monopólio da velhice nem das mulheres, mas atravessa todas as identidades quando submetidas à pressão de regimes sociais autoritários.
Visualmente, o trabalho de Guillermo Garza na direção de fotografia escapa ao exotismo fácil da Amazônia, optando por enquadramentos que tornam o rio um personagem ambivalente — espaço de fluxo e de prisão, de liberdade e de clausura. Já a direção de arte de Dayse Barreto compõe um futuro verossímil não pela grandiloquência tecnológica, mas pela acumulação de detalhes: propagandas, slogans oficiais, mensagens religiosas e grafites subversivos como “Devolvam meu avô”. O cinema aqui se aproxima mais do ensaio sociopolítico do que da ficção científica tradicional.
A trilha de Memo Guerra, por vezes excessiva, insere um elemento de estranhamento: um jazz tortuoso, deslocado, que impede a narrativa de se estabilizar no melodrama ou no épico. Essa escolha sonora reforça o caráter elíptico do filme, que se recusa a oferecer soluções redentoras ou finais consoladores.
O Último Azul é, portanto, mais do que um relato de fuga ou de descoberta tardia. É um gesto de imaginação política sobre a velhice como fronteira do humano em sociedades que cultuam a produtividade acima da vida. Ao tematizar o descarte dos corpos envelhecidos, Gabriel Mascaro toca numa ferida global, mas o faz com marcas estéticas muito brasileiras: o realismo mágico, a presença do rio, o humor agridoce, o hibridismo entre festa e tragédia.
Com isso, reafirma-se um dos cineastas mais inventivos do cinema brasileiro contemporâneo, capaz de sondar as contradições do presente projetando futuros distópicos que já se insinuam em nosso cotidiano. O Ultimo Azul não é apenas ficção: é diagnóstico e alerta.
ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA
Que tal apoiar a Escotilha? Assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 15,00 mensais. Se preferir, pode enviar uma contribuição avulsa por PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.