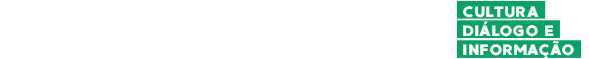Em 12 de outubro de 1967, o jornal inglês The Guardian publicou uma página inteira dedicada à apresentar e explicar aos leitores quem eram e o que diziam os sacerdotes e profetas da contracultura da época. Era um verdadeiro “guia do underground”. Homens como Bob Dylan, Allen Ginsberg e até Fidel Castro entraram no raio x do poeta e pacifista britânico Adrian Mitchell, autor do artigo, que trouxe aos leitores pequenos perfis de personalidades icônicas para a juventude e intelectuais marginalizados do final da década de 1960. [highlight color=”yellow”]Infelizmente, cabe a mim destacar, todos perfis de homens[/highlight], apesar de termos grandes nomes de mulheres contemporâneas a eles na música, na literatura, nas artes e na filosofia, merecedoras do mesmo espaço.
A publicação fez parte de uma série de artigos publicados pelo Guardian a fim de traçar um estudo panorâmico das novas ideias e novos conceitos que floresciam e chocavam-se de frente com o status quo vigente da época. A produção impactante de escritores, músicos e pensadores da época, mais ou menos fora das margens das artes tradicionais, passou a ser cada vez mais conhecida e foi considerada como uma força tão poderosa que os jornais se sentiram obrigados a tentar explicar o que estava acontecendo. Como em todo momento histórico de profunda transformação de valores, [highlight color=”yellow”]a cultura pop – pop no sentido antagônico ao erudito, mas não exatamente o pop das massas – canaliza as expressões através da sua literatura, música, cinema, teatro e outras manifestações artísticas, instrumentos da difusão do pensamento social.[/highlight]

Salto de tempo para 2017. Exatamente 50 anos depois da publicação do “guia do underground”, que buscou jogar luz sobre a contracultura de 1967, o The Guardian lança uma nova tentativa de olhar sobre expressões artísticas e culturais à margem do nosso tempo, porém com um foco especial para a música. Em tom aberto e colaborativo, tão característico ao novo jornalismo, o leitor é questionado: a música underground ainda existe em um mundo onde tudo é visível online? E se existe, onde está? Seguido da pergunta, um pequeno formulário está aberto para que qualquer pessoa envie suas sugestões de bandas e nomes considerados fora da cena comercial e dignos de nota.
A resposta curta e grossa para essa questão é: sim. [highlight color=”yellow”]O undeground existe, é claro.[/highlight] Mas os problemas dessa campanha ousada do jornal inglês, e um tanto ingênua em certos quesitos, são inúmeros. Será o Guardian o melhor veículo para definir e tentar explicar o que é e o que não é música underground hoje? Não acredito que seja, mas pago para ver a tentativa. A internet não destruiu a mídia especializada na “contracultura” do século XXI, e acima de qualquer outra coisa, o Guardian não representa e não dialoga com a produção e o consumo do que está fora do mainstream – e daquilo que não pretende ser inserido nessa rota.
É preciso levar em conta de que a ideia do que se constitui como música underground em 2017 é mais complexa e confusa do que jamais fora. Como bem pontua o jornal: “A internet mudou tudo – pontos de exposição, meios de distribuição, o ritmo ao qual a música é disseminada e consumida. Na corrida para manter-se, a mídia dominante abrange um espectro de música muito mais amplo do que há 20 anos: a velocidade com que um artista pode passar da sensação avançada do hipster às páginas de um jornal nacional, ou pelo menos seu site, tem reduzido. Os marcadores antigos que você pode razoavelmente usar para denotar se a música é “underground” ou não – está na TV? É na rádio nacional? É apresentado na mídia convencional? – não é mais verdade. O YouTube e as mídias sociais são infinitamente mais importantes na promoção da música e qualquer pessoa pode fazer o upload delas”.
[highlight color=”yellow”]A análise sobre o assunto requer cuidados delicados.[/highlight] Até mesmo o conceito do mainstream sofreu suas transformações. Hoje, qualquer fio de música que tenha fãs suficientes para constituir ou integrar uma “cena” possui seu site, canal no YouTube, perfil no Bandcamp, SoundCloud, Last.fm, e nesse ponto, aos olhos de muitos, torna-se mainstream. Ser parte de uma cena underground implica certa falta de visibilidade, mas parte dos artistas independentes simplesmente não busca visibilidade. Afinal, para quem é preciso tornar-se visível? Esse é o paradoxo de um jornal tradicional tentar colocar luz sobre o que está fora dos grandes holofotes. E esse também é o paradoxo enfrentado por quem critica a consistência (ou inconsistência) e os propósitos da música comercial, mas não consegue enxergar como um artista do underground pode (querer) ser contemplado pela grande mídia.
É preciso levar em conta de que a ideia do que se constitui como música underground em 2017 é mais complexa e confusa do que jamais fora.
Por outro lado, já temos mais exemplos do que podemos contar nos dedos das duas mãos de artistas que começaram de forma 100% independente, divulgando seu trabalho produzido nos moldes do “faça você mesmo” na internet, e experimentaram um boom da divulgação online do seu trabalho a tal ponto que a mídia percebe sua existência, coloca-o em pauta, e os próximos capítulos nós conhecemos bem: o artista X sai das fronteiras virtuais e atinge um patamar maior, físico, real, com mais público, e não raro caminha para os braços da indústria fonográfica. São caminhos. Muitos dos quais são moldados pelos verdadeiros propósitos artísticos e, porque não, políticos, comunicativos e pessoais dos artistas. Há quem faça arte pela arte, há quem tenha outros objetivos.
O propósito da busca pela “nova música underground” do The Guardian pode ter boas intenções e até trazer boas surpresas, especialmente para o público que não está inserido em nenhuma instância, em nenhuma cena underground da música – seja lá qual for o gênero. Também é provável que cause a sensação de ultraje para quem integra alguma cena underground, já que tradicionalmente a música underground não diz respeito somente à música, mas também diz respeito a linhas paralelas de ideologias, política, questionamento social e estético, e, portanto, escrever sobre uma cena underground sem estar exatamente dentro dela pode gerar outros problemas. A música inserida em um contexto ideológico, independente do perfil dessa ideologia, não é feita apenas para apreciação e consumo, numa lógica simplista e vazia da indústria cultural, mas [highlight color=”yellow”]é sobre comunicação, compromisso e entusiasmo.[/highlight]
A melhor maneira para inteirar-se sobre uma cena é buscar as suas próprias produções e canais de informação. Em 1975, o jornalista Legs McNeil (autor de Mate-me Por Favor) ajudou a fundar a revista Punk, um fanzine independente que saiu das entranhas do punk rock e ajudou a alavancar a cena musical do clube novaiorquino CBGB e de todas as bandas que por lá tocavam: Sex Pistols, Iggy Pop e Stooges, Patti Smith, Lou Reed e o Velvet Underground, Television, entre tantas outras, hoje largamente conhecidas. McNeil estava envolvido naquele ambiente e estava próximo daquelas pessoas, portanto, foi quase uma espécie de narrador-personagem. Esse é um fator que resulta em uma notável consequência de perspectiva na abordagem de uma cena, extremamente diferente da perspectiva de alguém “de fora” escrevendo sobre.
Para concluir, mas nunca encerrar o assunto, deixo uma contra-pergunta: de qual tipo de música underground e, acima de tudo, a partir de qual perspectiva o Guardian está tentando falar?