A autora Daniela Arbex é, hoje, uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil. Com uma longa carreira no jornalismo diário (foi repórter especial por 23 anos no jornal Tribuna de Minas), ela fez uma transição para a produção de livros-reportagem fundamentados em apuração extensa sobre fatos que impactaram profundamente a vida dos brasileiros.
O resultado deste trabalho é a produção de obras como o best-seller Holocausto Brasileiro, que já vendeu mais de 300 mil cópias e ganhou vários prêmios, Cova 312, Todo o dia a mesma noite, em que narra a tragédia da boate Kiss, em Santa Maria, sob a ótica dos sobreviventes e seus parentes.
Seu livro-reportagem mais recente é Arrastados – os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil, em que Daniela reconstitui a tragédia ocorrida na mina do Córrego do Feijão, que vitimou 270 pessoas. Nesta entrevista para a Escotilha, Daniela Arbex fala detalhes do processo de produção de Arrastados e conta sobre como as reportagens que faz impactaram na sua vida.
Escotilha » Daniela, uma vez que os seus livros se baseiam em eventos trágicos do Brasil, como o trabalho neles impacta na sua vida?
Daniela Arbex » É claro que, para a gente conseguir contar essas histórias tão densas quanto essas, você tem que ter não só uma apuração qualificada, mas uma escuta muito atenta, muito cuidadosa. Isso é fundamental. É claro também que é impossível a gente separar o momento em que você está ali como repórter do momento em que você é o ser humano. Então, essas escutas e essas vivências também me atravessam enquanto ser humano e impactam a minha vida, a minha rotina.
Mas eu tenho sempre mente uma coisa que acho muito importante pra fazer esse trabalho, que é questionar por que estou fazendo isso. Isto faz com que eu tenha mais clareza da importância do trabalho que estou fazendo. Assim, ao invés de ser doloroso, eu sinto como um privilégio. Eu sempre digo que é um privilégio você receber do outro o que ele tem mais de mais poderoso e potente, que é a memória afetiva. E ninguém que não tenha confiança em você vai te entregar o que ela tem de mais importante na vida dela. Por isso me sinto muito privilegiada por ser porta-voz por receber isto que é quase um diamante que elas me entregam, o que elas têm de mais precioso, que eu sei que preciso cuidar com muito zelo.
Isso me fez olhar para tudo que eu escutei, o que eu ouvi e vivi através do olhar dessas pessoas, como algo difícil que pode ser transformado em algo potente. Através desses relatos, a gente consegue não só preservar a memória coletiva do Brasil, mas também pode mudar a história. Porque a gente muda o olhar do outro sobre aquele fato.
O que não quer dizer que eu não me impacte pessoalmente pelo luto do outro. Contar a história das famílias vitimadas pela Boate Kiss me fez ter sequelas físicas: eu ganhei peso, perdi metade do meu cabelo, tive que fazer terapia. Eu vivi tudo isso. Mas ao mesmo tempo, depois da experiência, passei a olhar para isso com esses olhos do privilegio: da pessoa que está participando da construção da história do Brasil, da importância de a gente dar nome às coisas. Hoje quando você fala que o o Brasil teve um holocausto, você se refere à tragédia de Barbacena, você consegue contar uma história da ditadura e provar que um militante desaparecido há 35 anos não se matou, mas foi assassinado, quando vê o seu livro ser anexado pelo Ministério Público em um tribunal em Porto Alegre como um documento histórico. Isto tudo me alimenta muito.
Aí você consegue lidar melhor com a parte pessoal do trabalho.
Com certeza, porque aí você tem uma motivação. Eu sempre tive essa motivação para o meu trabalho. Mas, no caso da Kiss, acho que a minha relação com os pais foi ainda mais intensa, tanto que ela existe até hoje. Eu sei que pai que está doente, eu sei quem superou, sei quem infartou, sei quem está bem. A gente tem uma relação muito forte, que foi para além do livro. Mas em todos os livros, eu precisei construir uma relação de confiança com as fontes, baseada na ética. Depois da Kiss, isso ficou ainda mais claro para mim.
Então eu não me lamento, não digo “foi tão difícil para mim”. É difícil para quem perdeu um filho, para quem ficou quarenta anos internado em um hospital psiquiátrico, difícil é para uma família que não pode enterrar o seu amor na ditadura e durante quase quarenta anos, nunca soube o que aconteceu. Difícil é para quem perdeu alguém e recebeu, depois de todo aquele tsunami de lama, o seu filho todo segmentado, ou só uma perna do filho, ou ainda nem recebeu seu filho de volta. Eu não posso confundir: eu não sou a vítima, eu sou a pessoa que vai dar voz às vítimas.

A minha própria experiência com o livro da Kiss foi de muita comoção: foi um livro que li chorando. E penso que é difícil que alguém que tenha filho não tenha essa sensação.
Verdade. Esse livro é muito forte, porque ele é muito próximo da gente. Mas eu digo que essa proximidade precisava acontecer. Quando eu sempre escutei sobre a tragédia da Kiss como um acontecimento do Sul, como se não fizesse parte do Brasil. Mas é uma tragédia nacional, que poderia ter acontecido em qualquer lugar do país. Isso foi importante, porque as pessoas que achavam que era uma coisa tão longe trouxeram isto para perto. De alguma forma, o Todo dia a mesma noite nacionalizou esta tragédia. A gente precisava criar uma empatia que fosse além daquele domingo de 27 de janeiro de 2013 em que o Brasil inteiro chorou. A gente precisava trazer aquilo para a nossa realidade, dos nossos filhos.
Suas obras revelam uma pesquisa densa, com muitas entrevistas e visitas aos locais. Você pode falar um pouco sobre o processo de apuração dos seus livros? Você se prepara para ir para campo?
Não dá para se preparar para o inimaginável. Você só entende a dimensão daquilo que está relatando quando entra em campo, ou quando termina de escrever o livro, ou depois que o livro é lançado. Isto aconteceu comigo no Holocausto Brasileiro. Confesso que não tinha essa dimensão do que foi aquilo. Eu só sabia que era algo muito grave que havia acontecido, e por isso quis procurar os sobreviventes. Eu sabia que aquilo era urgente, mesmo 50 anos depois do que tinha ocorrido, mas não sabia do impacto que o livro teria na discussão na história saúde mental. Talvez se naquela época eu tivesse essa dimensão, poderia ser muita pressão para mim. O Todo dia a mesma noite eu sabia que seria importante, mas não tinha ideia de como isso iria atravessar as pessoas.
Então eu não me lamento, não digo “foi tão difícil para mim”. É difícil para quem perdeu um filho, para quem ficou quarenta anos internado em um hospital psiquiátrico.
O meu processo de apuração acontece em uma imersão profunda. Eu praticamente me mudei para o Rio Grande do Sul na época do livro sobre a Kiss. Fiquei 2 anos indo e voltando para Minas Gerais. Foi uma época assim muito difícil para mim, já que eu tinha um filho pequeno, e fiquei muito longe de casa, por muito tempo. Mas nessa imersão você tem tempo de ver coisas que a maioria das pessoas não viu porque não teve essa oportunidade. E aí você também começa a conviver com as pessoas e você vai vendo o lado de pessoa A, B, C, já que a gente é complexo. Pode ver cada relação familiar que tinha ali, famílias que tinham às vezes uma relação difícil com aquele filho que perdeu, e se sentem culpadas.
Penso que essa imersão me ajuda muito. Eu não consigo contar uma história sem estar no lugar dos fatos. Por exemplo: eu estive em Santa Maria 15 vezes para a apuração do livro. Mas eu deixei a minha última ida para entrar na boate porque eu sabia que seria muito forte para mim, e de fato foi. Mas eu precisava ver aquele espaço, saber quantos passos eram necessários do palco até a saída, etc. Em Brumadinho, a mesma coisa. Estávamos no meio da pandemia, em lockdown, mas eu precisava estar com as pessoas. Para você ter uma ideia, eu fiz 30 testes PCR para poder ir e voltar para casa com segurança.

Vou te dar um exemplo de Brumadinho: tem um personagem, o Gleison, que abre o livro, faz uma rota de fuga em que ele salva mais de 10 pessoas de caminhonete. Ele contou a rota para mim, mas eu não conseguia visualizar, o que significava que o leitor também não conseguiria. Então tive que negociar com o corpo de bombeiros para que ele pudesse entrar na área da Vale e percorrer comigo lá dentro da zona quente da mina, para eu poder enxergar. E foi difícil, porque para percorrer a mina, não dava para ser a pé, e tinha que ser o carro dos bombeiros. Foi uma negociação de meses. Mas quando deu certo, eu consegui ver e consegui contar para os leitores como foi.
Outra história foi com a Paloma (personagem de Arrastados que perdeu o filho, o marido e a irmã em Brumadinho), que eu sabia que era uma personagem importante. Eu fiquei pensando que esse depoimento era muito importante, pois só ela sabe o que aconteceu ali. Tentei entrevistá-la umas 15 vezes, e sabia que estava me tornando cansativa. Foi uma luta, pois ela estava muito traumatizada, desconfiada, mas claro que tudo uma capa para ela poder suportar todo o sofrimento. Era uma garota que, em um segundo, perdeu todo o mundo dela. Quando consegui conversar com ela, foi também difícil, pois ela parecia distante – para se proteger, é claro. A gente só se “entendeu” mesmo no lançamento do livro em Brumadinho. Ela foi, para minha surpresa, e depois leu o livro, e me mandou uma mensagem dizendo que estava muito impressionada.
Para se ter uma ideia, eu fiquei praticamente um ano indo ao IML porque eu precisava entender o processo de identificação das vítimas, que era muito complexo e técnico, e eu não queria errar. Se você coloca um termo errado de uma questão técnica, você tira credibilidade do trabalho. O rigor no cuidado da informação só é possível com um mergulho profundo, muita apuração, muito investimento de tempo e muita insistência.
É preciso entender que não é apenas chegar e entrevistar pessoas. Você tem que ter o contraditório, testemunhas para recriar os diálogos, as cenas. Eu ouvia sempre 5 pessoas para criar uma mesma cena, então no final eu tinha mais de 300 entrevistas feitas. Então tinha as entrevistas, toda a investigação do crime da Vale, a investigação do Ministério Público, da polícia federal, as 5 CPIs, e depois tem ainda que cruzar todas as informações para depois achar uma forma de contar aquilo que, para o leitor, também faça sentido.
E pegando o gancho em relação à narrativa dos seus livros, poderia falar quem são as suas inspirações literárias e jornalísticas na hora de contar as histórias?
Eu tenho uma pegada mais da não-ficção. Minhas referências são tanto os americanos, como John Hersey, Gay Talese, Truman Capote, quanto os brasileiros, como Audálio Dantas, Eliane Brum. A literatura também está nos meus livros: Guimarães Rosa está no Holocausto Brasileiro, Drummond está no Cova 312, Lima Barreto está homenageado em Arrastados. Eu procuro expressar minha admiração pelos escritores nos meus livros, mas a minha veia é toda na não-ficção.
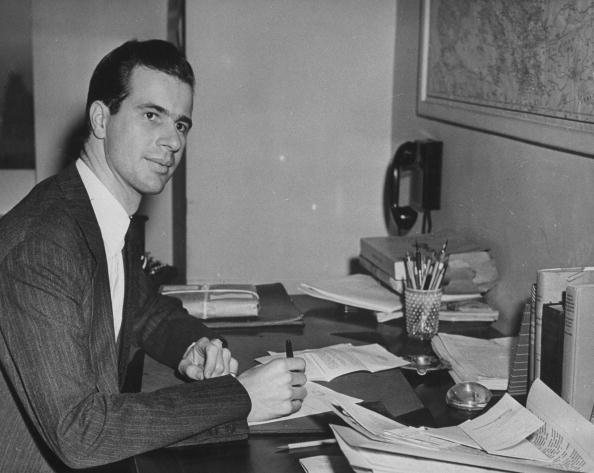
Eu acho que consigo ter uma escrita que é própria. Sempre tive muita preocupação com plágio e muito cuidado com isso. Então sempre procurei construir um estilo que uma pessoa pegasse o livro e soubesse que era meu. Este estilo eu fui desenvolvendo no próprio jornal que eu trabalhava. É importante focar no aprimoramento do seu estilo para não ser um “imitador”, é melhor tentar ser a melhor versão de si mesmo.
Jon Hersey, em Hiroshima, é uma referência muito forte para mim. Ele mostrou que era possível contar uma historia que não precisava ter toda aquela objetividade típica do lead e narrar de uma forma diferente. Eu procuro escrever como se eu fosse uma leitora, pensando em o que eu gostaria de receber se fosse ler o livro, sanando as minhas curiosidades.
Por exemplo: eu lembro que perguntei para o Lieuzo (personagem de Arrastados), que viu o chão tremer e o carro em que os colegas dele estavam ser engolido. Então perguntei a ele o que ele pensou quando viu que ele também seria engolido: queria saber o que passa na cabeça de uma pessoa que sabe que vai morrer. E ele falou: “a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ‘ih, morri!””. Aí pensei: vou terminar o capítulo com isso.
Lembro também quando entrevistei o Schirmer (prefeito de Santa Maria na época da tragédia da Kiss) em Porto Alegre, ele já como Secretário de Segurança. Fui lá sem pré-julgamento, totalmente aberta, e perguntei para ele: “o senhor sabe que uma das maiores dores dos pais das vítimas é que o senhor nunca pediu desculpa para eles”. E ele responde uma frase que, para mim, se tornou clássica no livro: “eu até poderia pedir desculpas, mas pelo quê?”. Para mim, a entrevista encerrou ali, pois essa frase simbolizava que, depois de tanto tempo, poderia aproveitar esse momento para esse redimir e demonstrar empatia, mas não conseguiu.
Eu acho que muito está nisso de querer mais um pouco, além do que é dito. Um exemplo é o Aihara (Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros na tragédia de Brumadinho), que foi o rosto da corporação. Eu me perguntava: esse menino é feito do quê? Comecei a querer mais da vida dele, e descobri que ele era um menino cujo pai que nunca tinha dito o quanto se orgulhava dele. Demorou para eu entender como um menino de 25 anos era tão preparado assim, e era por conta da cobrança enorme do pai, e essa investigação foi muito legal. Descobri também uma história de um bombeiro que estava em depressão e que Brumadinho significou uma salvação para ele. Então o meu objetivo é ir além do óbvio.

E você chega a acompanhar os impactos dos livros nas famílias?
Antes de entregar o livro, eu sempre leio os capítulos com os personagens. Dá um trabalhão, mas é fundamental. Primeiro porque ajuda a consertar os erros que aparecem, e depois do livro impresso, seria bem mais difícil. Este processo é um dos bastidores mais lindos dos livros. Porque ali a gente vê na reação de cada um, a transformação das pessoas, o impacto na vida delas.
Vou te dar um exemplo do Cova 312. Tem um personagem no livro que tinha uma briga com o pai porque ele era um físico e o pai era um simples dono de restaurante português que não tinha muito estudo. Ele nunca conseguiu perceber que foi o esforço do pai que fez que ele pudesse ser físico. Nas várias entrevistas que fiz com ele, perguntei para ele como foi quando ele foi preso, e como foi a primeira noite na prisão. Ele me explicou que dormia no chão, abraçado nos joelhos, e eu entendi que ele estava descrevendo a chamada “posição fetal”.
E esse pai, que ele nunca valorizou, quando soube da prisão do filho, rodou o Brasil inteiro atrás dele. Quando finalmente achou o filho, eles se olham pela grade, e o pai pergunta: “estão te maltratando aí?”. É claro que ele não ia dizer que sim. E o pai deixa para ele um pacote embrulhado em papel pardo, e escreve “coisas do papae”. Ele rasgou o pacote e guardou o papel com o recado do pai até hoje.
Quando ouvi isso, na hora eu entendi que aquele era o momento em que pai e filho tinham feito as pazes. Foi o momento em que o filho entendeu o valor desse pai. Então eu escrevi descrevendo isso. Quando fizemos a leitura, esse filho chorava muito, igual criança, e dizia que não acreditava que ele não tinha percebido isso antes. Mas para quem está de fora, é muito mais fácil ver. E isso acontece muito nessas leituras.
O Todo dia a mesma noite, quando ficou pronto, eu fui para Santa Maria só para ler os capítulos e filmei por recomendação do Marcelo Canellas. Mandei o livro primeiro para os pais. A Ligiane (personagem do livro) me escreveu dizendo: “receber seu livro foi como receber minha filha de volta”.

A nossa conversa está deixando bem claro que reportagens em profundidade, como as tuas, exigem grande investimento emocional, de tempo, e mesmo financeiro. Queria contextualizar um pouco o teu trabalho dentro do jornalismo como ele ocorre hoje. Hoje muitas empresas enfrentam crises financeiras, o que costuma desencorajar o investimento em reportagens. O que você falaria para jornalistas que estão querendo seguir o mesmo caminho?
Esse processo complexo de um livro não cabe em um modelo de jornal diário. Mas eu queria destacar que sempre fiz jornalismo investigativo no jornal diário. E a minha visão, de alguém que trabalhava em um jornal do interior, sem tantos recursos, é: as matérias que mais davam retorno ao veículo foram as que os repórteres investiam em tempo e apuração. Talvez você não lembre da manchete que leu hoje, mas quando fala de Holocausto Brasileiro, vai lembrar da reportagem, porque trouxe transformações profundas para a sua comunidade.
Um aspecto importante a ser ressaltado é que essas reportagens também trazem orgulho para a comunidade em relação ao seu veículo. Penso que uma das saídas para o jornalismo diário é o jornalismo comunitário, que envolve estar próximo das pessoas e de suas demandas, fazendo que a comunidade se sinta representada. Então acho que é um tiro no pé quando os veículos enxugam as redações a ponto de impedir que os jornais continuem fazendo o que eles nasceram para fazer: a fiscalização, a checagem, a busca do contraditório, a tentativa de pautar o poder público.
Tem uma coisa que também acho fundamental: as novas formas de contar histórias não inviabilizam os modelos mais antigos. Você ter a possibilidade de contar histórias em novas plataformas não mata as velhas. Eu não vejo o fim do jornal diário e dos grandes veículos. Só acho que não podemos esquecer por que os jornais foram feitos, e não é para brigar pelo furo com a internet.
E o que você falaria sobre jornalistas que fazem investigações independentes?
O Holocausto Brasileiro foi assim. O jornal não tinha dinheiro suficiente para custear a reportagem, então eu paguei parte dos custos. Se você esperar as condições ideais para fazer a reportagem, você nunca vai fazer. Em um dos prêmios que ganhei por essa reportagem, os jurados disseram que o trabalho mostrava que não precisava de um investimento imenso para impactar a comunidade. Que foi a partir de uma investigação artesanal que a gente conseguiu reverter uma situação danosa à comunidade. Eu nunca tive os melhores recursos, mas queria fazer.
Eu sei que muita gente se incomoda, acha injusto, mas tudo na vida não é assim? Eu acho que até quem tem todo os recursos do mundo depende também do seu interesse. Temos exemplos do Mauri Konig, Fabiana Morais, que ganharam prêmios muito por seus interesses e esforços pessoais, como ficar longe da família, por exemplo. Não conheço um grande repórter que se destacou sem ter usado seu esforço individual para fazer o trabalho.
VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI, QUE TAL CONSIDERAR SER NOSSO APOIADOR?
Jornalismo de qualidade tem preço, mas não pode ter limitações. Diferente de outros veículos, nosso conteúdo está disponível para leitura gratuita e sem restrições. Fazemos isso porque acreditamos que a informação deva ser livre.
Para continuar a existir, Escotilha precisa do seu incentivo através de nossa campanha de financiamento via assinatura recorrente. Você pode contribuir a partir de R$ 8,00 mensais. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.
Se preferir, faça uma contribuição pontual através de nosso PIX: pix@escotilha.com.br. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor – uma forma rápida e simples de demonstrar seu apoio ao nosso trabalho. Impulsione o trabalho de quem impulsiona a cultura. Muito obrigado.









