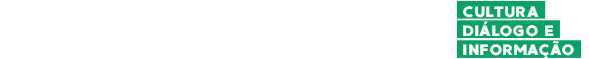Imagine a seguinte cena: você abre seu WhatsApp e dá de cara com uma “notícia” que claramente é mentirosa. Ela chega até você por meio de um grupo, o que significa que há a possibilidade de que atinja muitas pessoas – e ser recompartilhada por outras tantas. Dependendo do nível da desinformação carregada ali, o conteúdo pode causar muitos danos, tanto para as pessoas que a recebem quanto a outras, fora desta rede, mas que também serão atingidas pela reverberação da mentira.
Mas ainda que o WhatsApp seja uma rede social de mensagens muito espalhada entre os brasileiros, ele tem uma peculiaridade: sua comunicação é fragmentada através das chamadas “bolhas”. Isto significa que, na prática, aplicativos de mensagem como este ainda têm muito menor poder de comunicação às massas do que a televisão, o veículo mais acessado pela população.
Segundo dados levantados pelo IBGE em 2019, 96,3% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão. Já o dado sobre o acesso à internet em domicílios brasileiros é menor: 82,7% dos lares possuem esta conexão. Mas este número, que é uma média, é muito menor nas áreas rurais. Há ainda muitos brasileiros para quem a internet é muito cara (26,2%) e outros que não fazem ideia de como a rede funciona (25,7%).
Faz então bastante sentido pensar que a televisão pode desempenhar um papel muito importante no combate às chamadas fake news. Isto pode se dá por meio de dois aspectos centrais. O primeiro é a verificação dos conteúdos mentirosos ou enganosos, e o compartilhamento desta checagem à população. O segundo é a realização de um trabalho pedagógico que auxilie as pessoas a reconhecer esta prática, para que então consigam fazer uma leitura crítica daquilo que consomem.
ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA
Para continuar a existir, Escotilha precisa que você assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 8,00 mensais. Se preferir, pode enviar um PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.
Mas será que as emissoras brasileiras estão conseguindo desempenhar esta função? Para esclarecer isto, conversamos com duas profissionais: Elaine Javorski, jornalista e professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), que é pesquisadora ligada à Rede Nacional de Combate à Desinformação; e Katia Brembatti, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), professora na Universidade Positivo e jornalista do Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do jornal O Estado de São Paulo.
A importância da televisão no combate às notícias falsas

O termo fake news se popularizou de tal forma que costuma ser usado de maneira equivocada – o próprio presidente Bolsonaro, por exemplo, costuma adjetivar uma notícia que o desagrada como fake news. Por isto, é importante recontextualizar o termo e situá-lo no escopo mais amplo da desinformação, envolvendo as práticas que são usadas para enganar ou induzir o leitor ao erro. Isto pode acontecer, por exemplo, quando uma notícia antiga é compartilhada como nova, quando um trecho de uma entrevista real é tirado de contexto para dar a entender outra coisa, etc.
96,3% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão. Já o dado sobre o acesso à internet em domicílios brasileiros é menor: 82,7% dos lares possuem esta conexão.
Elaine Javorski pontua que, de modo geral, os produtos audiovisuais (o que inclui aqui os que circulam na internet, como vídeos) são propensos para entrar na dinâmica da desinformação. A facilidade cada vez maior no manejo das tecnologias colabora para que vídeos e conteúdos enganosos não parem de surgir. “É muito fácil fazer uma edição no celular, ou reconstruir a fala de uma pessoa pública, por exemplo, e sair compartilhando nas redes. Só que, diferente do texto ou de um meme, a imagem traz uma ideia de veracidade”, explica.
Curiosamente, isto tem sido apropriado pelos atores sociais não apenas para atacar os opositores, mas também para tentar apagar os seus erros. Elaine dá um exemplo de como isto acontece. “Recentemente, tivemos algumas falas de presidenciáveis que foram manipuladas para passar certos sentidos, mas há também os casos contrários: quando se usa a justificativa de que houve manipulação para tentar desconstruir alguma fal. Um exemplo é o caso do ‘pintou um clima’ do Bolsonaro falando sobre adolescentes venezuelanas”, comenta.
ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA
Para continuar a existir, Escotilha precisa que você assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 8,00 mensais. Se preferir, pode enviar um PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.
Esta ideia é reiterada por Katia Brembatti, que ainda destaca que o telejornalismo precisa atuar como um espaço preponderante no combate à desinformação. “Ainda que o fato de ter imagens em movimento não seja suficiente para alguns – ainda há quem se recuse a acreditar que astronautas estiveram na Lua – e de que a era das deepfakes (tecnologia de inteligência artificial que cria vídeos e áudios falsos com pessoas reais), com montagens super-realistas, seja um desafio contemporâneo, o efeito convincente da TV deve ser levado em conta”, pontua.
Durante a pandemia de COVID-19, segundo Katia, esta relevância da televisão foi fundamental. “Foi bem importante o momento em que os veículos televisivos – ao considerar as questões dos riscos envolvidos – pararam de usar meias palavras e passaram a dizer, com todas as letras, que alguns comportamentos representavam perigos reais”.
As duas jornalistas consideram que a televisão tem enfrentado a questão da desinformação em suas práticas, mesmo que nem sempre anunciem isto. Mas este conhecimento chega ao público sobretudo quando uma notícia falsa tem como alvo o próprio veículo. “Este foi o caso de um vídeo em que aparece a Renata Vasconcelos do Jornal Nacional falando sobre uma pesquisa em que Bolsonaro estaria na frente. Era um caso de deep fake. Depois que isso ocorreu, a própria Renata Vasconcelos desmentiu isto no próprio Jornal Nacional”, pontua Elaine
Desmentindo mentiras em rede nacional

E como as emissoras estão fazendo para combater a desinformação? Elaine Javorski afirma que a checagem já é, desde sempre, um processo presente na cadeia de produção jornalística. Ainda assim, os tempos atuais têm requerido que se pense em outras formas de trazer este trabalho a público.
No caso da Globo, por exemplo, há um trabalho interessante que envolve a convergência com outras plataformas. “O G1, por exemplo, tem uma inserção chamada ‘G1 em Um Minuto’, que costuma entrar nos programas de infoentretenimento, Recentemente, no É de Casa, houve uma matéria sobre a utilização da votação como prova de vida no INSS. E eles usaram o quadro ‘Fake ou Fato’, que é do site do G1, para fazer a checagem na TV. Trata-se de um exemplo de crossmedia, o que tende a ser cada vez maior na televisão”, aponta Elaine.
Katia Brembatti também cita o quadro “Fato ou Fake”, que insere pílulas de informação durante a programação televisiva. A jornalista ainda menciona o Projeto Comprova, que é capitaneado pela Abraji, e une 43 meios de comunicação, sendo que alguns são emissoras. Um exemplo é a Band. Outro projeto da Abraji são os Núcleos de Checagem Eleitoral, que também conta com canais de televisão, como o SBT.
“Profissão Repórter é interessante porque mostra a aproximação dos jornalistas com as fontes e como a apuração é feita”
Elaine Javorski
Mas também há formatos televisivos específicos que podem favorecer o conhecimento sobre mídia e, deste modo, fazer com que as pessoas se empoderem de uma leitura mais crítica sobre as notícias que chegam até elas. Um dos casos mais interessantes, e que é citado pelas duas jornalistas, é o programa Profissão Repórter, capitaneado por Caco Barcellos na Globo.
A efetividade de um programa deste tipo se dá por ele exibir como funciona o trabalho dos jornalistas. “Ele é interessante neste sentido porque mostra a aproximação dos jornalistas com as fontes e como a apuração é feita. Entender os bastidores é uma forma de obter educação midiática”, explica Elaine.
Além do Profissão Repórter, Katia também menciona alguns quadros do Fantástico e os programas de entretenimento, como o Encontro, o Mais Você, que costumam abordar este tipo de esclarecimento, e até as novelas. “Durante os primeiros meses da pandemia, a Globo tinha um programa matutino exclusivo e também o quadro ‘Bem Estar’, agora no É de Casa, ocupa um espaço relevante na área de saúde, particularmente”, lembra.
A checagem é o caminho?

Alguns pesquisadores hoje problematizam a estratégia da checagem de fatos como a forma mais importante para combater as notícias falsas. O argumento seria que as pessoas impactadas pelas fake news não serão necessariamente impactadas pela checagem. Elaine Javorski explica: “o grande problema é que muitas pessoas não estão interessadas em saber se aquilo é verdade ou é mentira. Muitas vezes compartilha-se algo mesmo sabendo que aquilo não é verdade”.
“Não podemos descansar nem desistir de checar. Seria conformar-se com a mentira à solta”
Katia Brembatti
Katia Brembatti destaca que, ainda assim, a checagem é fundamental. “Primeiro, não podemos descansar nem desistir de checar. Seria conformar-se com a mentira à solta”. Mesmo assim, algumas técnicas precisam ser consideradas. “Uma delas é avaliar a viralização antes de fazer uma checagem. Uma informação que está circulando em um grupo muito pequeno, sem potencial danoso, costuma não ser checada porque o chamado debunking (termo mais usado para o processo de desmentir boatos) acaba amplificando uma desinformação que antes estava restrita”, aponta Katia.
Por fim, as jornalistas arrematam: não se combate o mecanismo das notícias falsas sem investir em educação para mídia. Só que isto não irá acontecer de fato, segundo Elaine, sem que haja a implementação nos currículos escolares. ”Em Portugal, por exemplo, existe a disciplina de educação midiática, o que faz com que as pessoas sejam menos apaixonadas ou emocionadas na hora de tratar, por exemplo, a política, algo que muda a sua realidade”, conclui.
Esta é a segunda reportagem faz parte de uma série em quatro partes sobre os desafios da televisão frente as fake news. Continue acompanhando na Escotilha para ler todas as matérias. Enquanto isto, você pode ler a primeira reportagem.
ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA
Para continuar a existir, Escotilha precisa que você assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 8,00 mensais. Se preferir, pode enviar um PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.