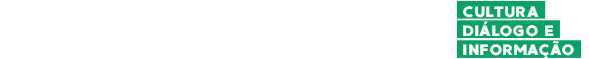Em 1936, o sociólogo e historiador paulista Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil (Companhia das Letras), uma das obras fundamentais para que possamos compreender quem somos como nação. Mais de oito décadas desde sua primeira edição, o livro, escrito após uma temporada do autor na Alemanha, continua sendo um título incontornável. E um de seus capítulos, mais precisamente o de número cinco, intitulado “O Homem Cordial”, nunca foi tão pertinente para se decifrar a identidade nacional.
Embora o título possa soar como um elogio, essa percepção, à medida em que avançamos na leitura, revela-se enganadora. O adjetivo cordial, cujas raízes etimológicas estão conectadas à ancestral latina da palavra coração, é usado pelo autor de forma no mínimo ambígua. Para ele, brasileiros teriam uma inata dificuldade em separar o público do privado, e tendem a agir, quase invariavelmente, guiados pela subjetividade, e por uma certa irracionalidade bastante conveniente.
Diz Buarque de Holanda que nossa sociedade, desde os primórdios coloniais, formou-se, perversamente, a partir de relações contaminadas por interesses de caráter pessoal, familiares em um sentido mais amplo, que não encontravam barreiras entre a sala de estar e os gabinetes. Nepotismo, compadrio, abuso de autoridade e o indefectível jeitinho brasileiro, cuja lógica de informalidade é vendida como solução para todo e qualquer problema, seriam efeitos colaterais desse transtorno de formação.
Diz Buarque de Holanda que nossa sociedade, desde os primórdios coloniais, formou-se, perversamente, a partir de relações contaminadas por interesses de caráter pessoal, familiares em um sentido mais amplo, que não encontravam barreiras entre a sala de estar e os gabinetes.
Essa confusão entre as duas esferas faz com que o homem público brasileiro, quase sem qualquer exceção, instrumentalize seu poder, muitas vezes atribuído a ele por voto popular, em benefício próprio, privilegiando não apenas suas ambições particulares, mas as de seus “iguais”: irmãos, filhos, amigos e compadres, numa troca infinita e promíscua de favorecimentos. A essa dinâmica perversa pode chamar de patrimonialismo, conceito cunhado em fins do século 19 pelo sociólogo alemão Max Weber.
Essa tal cordialidade, tudo capaz de informalizar e trazer para o âmbito da conversa sussurrada, com direto a piscadelas e tapinhas nos ombros, explica os pequenos e grandes atos de corrupção trivializados em nosso cotidiano. Malas de dinheiro, apartamentos em Paris ou no litoral paulista, contas em paraísos fiscais, joias e obras de arte adquiridas com dinheiro de propina e caixa 2 não representam novidade em nossa história, mas talvez não seja tarde para mudá-la de rumo.